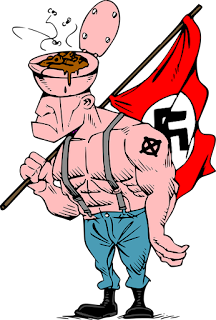A gente se mata todos os
dias. De sustos, de vício, amor, desamor, doses conta-gotas de suicídios não
violentos. Poetas são mortos silenciosamente, sem deixar sinais. Crime
perfeito, sem glosa e sem suspeito. Kaio Bruno Dias poetizou que a gente morre
todo dia por deixar de ser quem gostaríamos, por não ter pernas pra ir àquele
seu destino sonhado, por silenciar nossas verdades e quando os vícios se tornam
nossos melhores momentos. Outro poeta anônimo, Pedro Salomão, suplica: “se você
me entende, por favor, me explica!”.
Percebo que, se matarem
todos os poetas, a população mundial sofrerá um abalo considerável. Todo bichinho de orelha se declara
poeta. Cito outro poeta de blog, Sérgio Vaz: “Se todo mundo que fala que é,
fosse, a gente não estaria nesta fossa”. Poeta é um escritor que compõe poesia.
Ou um cronista, romancista, cujos escritos se encharcam de poesia. Redigir
poesia é um troço tão forte em alguns indivíduos que é assim: escrever ou
morrer. Muitos escrevem e morrem. A escritora
americana Sylvia Plath se suicidou em 1963, aos 30 anos. Outra americana,
Virginia Woolf, a portuguesa Florbela Espanca e a brasileira Ana Cristina Cesar
se mataram. O ofício de escrever tem a função de dar uma arranjada no
discernimento da pessoa que escreve, porém, corre-se o risco de desatinar.
O poeta moderno é poetisa, negra, 38 anos, mulher da Umbanda,
periférica, pansexual e chegada ao poliamor. Por ser gorda, negra, mulher e
lésbica, e falar em coisas eróticas nos seus poemas afrocentrados, a poeta
sofre carradas de discriminação. A implicância e o preconceito levam
a poeta, cujo nome é Joaninha Dias, a se esconder do rótulo de poetisa, que ela
odeia essa forma “correta” do feminino da palavra poeta. As histórias
ancestrais que rolam na sua poesia carregam o lema ressaltado por Conceição
Evaristo: “‘minha escrita é contaminada pela condição de mulher negra”.
Há,
entretanto, o poeta chato. Ele veste uma camisa com a legenda “Poeta fulano de
tal” e sai declamando seus versos, diria até que impondo sua produção. Conheço
uma figura extravagante nessa linha. Vai ao passeio toda manhã com seus poemas
debaixo do braço. Em rigorosa abstinência de senso do ridículo, detém a
primeira pessoa que encontra e lê os tais poemas de patas espedaçadas.
Constrangedor ver as pessoas evitando dar de cara com o vate.
Escrevo
versos desde os quinze anos, publiquei alguns livros, mas não me considero
poeta. Fujo poeticamente do rótulo. Pelas mesmas razões do professor Arturo
Gouveia: “Não
posso aceitar que a sociedade me veja como escritor. Sim, já publiquei poemas,
uns sonetos retrógrados, publiquei livros, mas tudo por mero prazer e pra não
deixar que minha cabeça oca seja tentada por maus espíritos. Dá pra entender? Me chamar de escritor faz parte dos exageros
de interpretação que a sociedade, às vezes, para o bem ou para o mal, nos
impõe”. Alguém acusou o poeta Arturo de escrever para uma elite. Ele se
defende. Garante que não escreve pra ninguém, as pessoas é que procuram seus
textos para ler. “Não tenho culpa do mal gosto dessa gente”, diz Arturo, para quem
o maior sonho é cair na obscuridade e jamais ser reconhecido como escrevinhador
do que quer que seja.
Protegido pela madrugada,
o poeta cai na clandestinidade dos becos e vielas, mete-se entre cangaceiros
urbanos e se transforma em poeta marginal de bar suspeito. Como todo
delinquente, o poeta fora da lei tem sua cabeça a prêmio. Na Colômbia, matam-se
poetas “a domicílio”, conforme li em um blog. Pobres confrades colombianos! Seria
o poeticídio a solução final para esse desajustamento literário? É crime mal
traçar e pior parir excrementícios bolos de tolos poetaços? Por via das
dúvidas, deixo registrado que não sou nem serei inventor dessa coisa “complexa,
feita de tristeza, nostalgia e sentimentos confusos a que o vulgo denomina
poesia”, no conceito do não poeta Paulo Mendes Campos.